Prosa dispersa
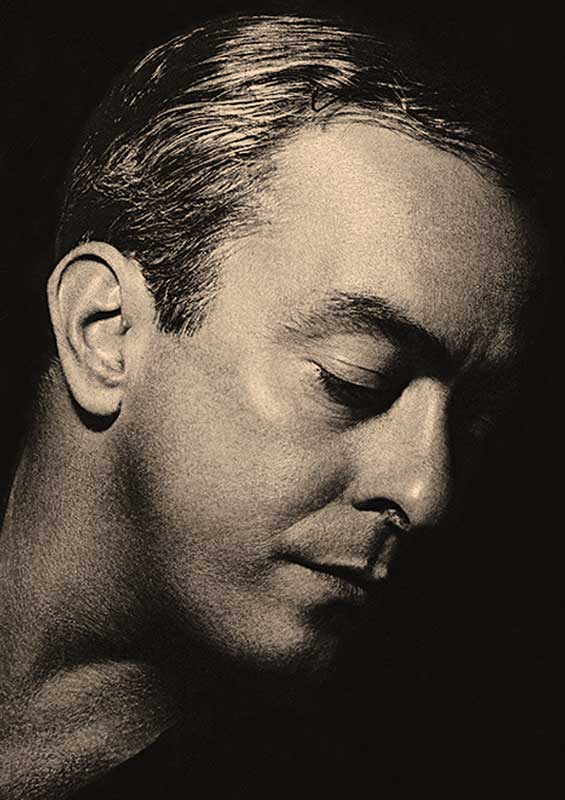
A LETRA A: “PALAVRA POR PALAVRA” (III)
Abajur: Foi, talvez a primeira palavra francesa de que tive conhecimento, e ela me traz recordações tão lindas da Ilha do Governador que, ainda agora, a escrever estas memórias, tenho os olhos rasos d’água.
Nossa casa, com duas janelas de frente, ficava à beira-mar, em Cocotá, a meio quilômetro da grande amendoeira onde o bondinho da ilha rangia na curva, em demanda de Freguesia. Eu tinha por aí uns nove anos, e era a coisa mais pulante, grimpante e nadante que já existiu. Nunca menino algum aceitou menos as vias normais de acesso. Sempre em carreira, desviava compulsivamente minha velocidade para as sebes, que varava, os muros, que escalava, e os fossos, que transpunha. Vivia aos saltos, de baixo para cima, de cima para baixo. Bastava ver um acidente qualquer de terreno, uma cerca, uma catraia a seco, um valado, e eu, dando tudo, precipitava-me a mil e — zumpt! — saltava-os feito um doido dançarino. Era como um Nijinski infante a dar entrechats cada vez mais altos e elásticos, numa ânsia de alcançar não sei o quê, quem sabe o infinito, quem sabe Deus...
E caía exato
Como cai um gato.
...para recomeçar uma correria nova, fosse para a casa de Mário e Quincas, meus amiguinhos pobres, fosse para o pontão das barcas da Cantareira, de onde Augusto mergulhava.
Augusto era o meu deus. Irmão mais velho de Mário, Quincas e Marina, minha namoradinha secreta, Augusto representava para mim o herói total configurado no mergulhador. Eu admirava, da ponte de Cocotá, a agilidade com que ele, numa escalada de macaco, subia as estacas mais altas, de onde dava os saltos de anjo mais lindos, penetrando o mar como uma faca em ponta, sem qualquer espadana, e com um marulho apenas perceptível. E eu ficava sempre numa aflição, de não vê-lo nunca mais voltar à tona. Augusto demorava dois minutos folgados a vasculhar o fundo, do qual trazia sempre qualquer coisa de belo ou de útil: caranguejo, ferro-velho, estrela-do-mar, ou o que fosse, que me atirava de baixo, em saltos que lhe faziam soerguer meio corpo da superfície, como um golfinho brincalhão. Nós andávamos os quatro sempre de súcia, e a mim me espantava a naturalidade em que seus irmãos o tinham, sem nenhuma mostra de admiração. Foi ele que me ensinou a mergulhar e mover-me no fundo do mar, rente ao lodo; e mais tarde a pescar a dinamite: uma barbaridade que, na época, eu achava o máximo. Augusto colocava-se à proa do barco, nós nos agachávamos na popa como podíamos, ele acendia o pavio, esperava um momento, soprando-o forte, e, de repente, no segundo antes, lançava a banana de dinamite ao mar. A explosão, gorda e cava, levantava, ato contínuo, um cogumelo espumarento, e logo os peixes mortos começavam a subir. Mas os que nos interessavam eram os que ficavam atordoados, atrás dos quais mergulhávamos rápido. Levávamos, para essas ocasiões, pequenos sacos, e, uma vez cheios, metíamos o peixe dentro da camisa da roupa de banho — como se usava na época — e voltávamos semiasfixiados à tona. Nunca mais pude esquecer o contato frio e viscoso dos peixes contra a minha pele.
✩
À tarde, na sala de visitas, como então se dizia, onde tudo o que havia de luxo era o belo jarrão chinês, trazido por meu bisavô de uma de suas andanças, minha mãe sentava-se ao piano e ficava tocando horas perdidas.
Nós ficávamos, minha irmã mais velha e eu, sentados no chão, geralmente a armar colagens ou a folhear o Tico-Tico, o Eu sei tudo e o Tesouro da juventude, nossa primeira leitura infantil. Os sons vinham, encantatórios, mergulhar ainda mais nossas vidas naquele clima doméstico, como se nós fôssemos a única família do mundo. E a verdade é que éramos a única família do mundo, unidos pelos mesmos horários e pelos mesmos desígnios de poupança, pois meu pai, por uns maus negócios que fizera, andava mal de vida.
Minha mãe, ainda tão moça, aflorava as teclas, o olhar perdido longe. Ela tinha sido aluna de francês de meu pai, na velha chácara da Gávea, e se casara aos 15 anos com esse homem bem mais velho, que se apaixonara perdidamente por ela, e que, bom poeta, vivia a lhe fazer sonetos, odes, rimancetes, baladas, elegias — tudo enfim que constitui e consolida a arte de fazer versos.
Eu a achava linda, toda rechonchuda, os longos cabelos soltos e os olhos de um azul tão vivo que, às vezes, parecia perturbar-lhe a visão, como se ela estivesse enxergando mais do que devia. Posso ouvir ainda os primeiros tangos que ela tocava, dos quais “La cumparsita” era o mais vibrante e “Caminito” o mais terno...
E de repente foi o fox-trot. Que alucinação! Meu pai chegava com novas partituras, que minha mãe tirava laboriosamente ao piano:
Hindustão
Paraíso das mulheres divinais
Ó Hindustão
Quem te ama não te esquece nunca mais...
Eram os primeiros doces tentáculos do polvo tateando à toa num mundo despreocupado e sem malícia. Nós não sabíamos de nada ainda. Sabíamos que éramos uma família que morava numa ilha pertencente à capital de um país que não sabíamos tampouco subdesenvolvido. Sabíamos vagamente que houvera uma guerra mundial e um terremoto no Japão. E súbito, aquele ritmo diferente e cheio de langor, a insinuar conivências pecaminosas na penumbra...
Abajur
Com tua branda luz de cor bleu
Tu, só tu
Tu me inspiras não sei por quê...
Minha irmã e eu dançávamos, dois passos para lá, e dois para cá, como mandava o figurino. E os sons me envolviam dessa tristeza que nunca mais me abandonou, que tem a ver com alguma coisa sempre buscada e nunca totalmente possuída: não sei se o amor, não sei se a vida, não sei se a paz. Saudade, certo, que me fez poeta e compositor, e que, apesar de todas as flores e amores que a vida me deu, só me fez crescer em melancolia e solidão.
Jornal do Brasil, 14-15 de setembro de 1969
