Prosa dispersa
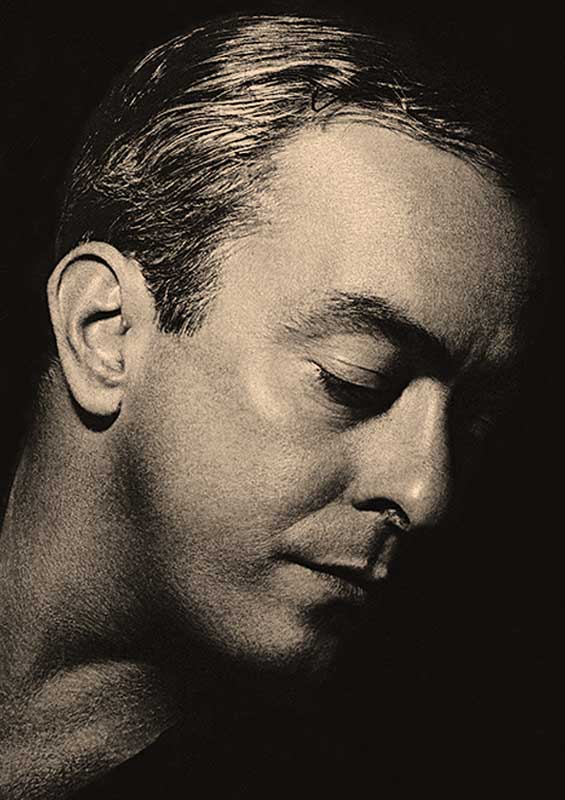
BARRA LIMPA
E como as páginas dos jornais estivessem mais sujas de sangue que as que embrulham o peso de carne nos açougues, eu resolvi desligar e buscar um pouco de beleza no mundo. Olhei minha nova casa em torno, toda caiada de branco, modesta em seu recolhimento, e os belos arraiolos no piso de tábuas, e fui espiar meu escritório ainda incompleto, pintado de amarelo-acácia, e vi minha mesa de trabalho com a Smith Corona em posição de sentido e o maço de folhas quadriculadas à minha espera para o artigo, o poema, a canção. À esquerda, o Pequeno dicionário, de mestre Aurélio, o tubo plástico de cola-tudo, a caixa de clipes e o copinho de couro ornado em cobre com as esferográficas e os lápis prontos para tudo. Pedi um café e sentei-me, tomado de grande paz. Vinha daquele ambiente um silêncio tão antigo; aquela casa era a tal ponto a representação de outras em que eu nunca tinha estado — como o reflexo ao infinito de uma imagem num espelho — que eu poderia dizer naquele instante como viviam e pensavam os homens mais remotos no tempo. Foi então que vi, através da janela, a pedra dos Dois Irmãos, na luz pura da manhã na Gávea; e ela estava de tal modo precisa em seus contornos, tão íntegra em sua estrutura milenar, que sorri para ela e ela me correspondeu sensível à onda de percepção que eu irradiava.
Senti como se estivesse nascendo naquele momento. Uma vida nova, passada a limpo, me esperava em direção a um Norte mais nítido, a uma morte mais próxima e sem alternativa. Mas aquela casa me protegia, e dentro dela uma mulher se esforçava por me fazer feliz. Aquelas folhas de papel me esperavam também, intocadas, e era minha obrigação escurecê-las de ideias, histórias, sortilégios capazes, talvez, de fazer alguém parar no seu cotidiano e se pôr a sonhar. Era bela a minha missão. “Eu sou um poeta”, pensei, “um homem dotado de um dom mágico com relação às palavras; a bem dizer, um encantador de palavras, com a habilidade de ordená-las no seu caos e fazê-las significar, torná-las cruéis, pungentes, desesperadas, ou boas, úteis, generosas; com o poder de interpretar para alguém o milagre de um sentimento ignorado; de dar expressão ao inexprimível; de associar ideias, cores, sons aparentemente contrastantes; de emprestar sentido e beleza ao terrível paradoxo da vida...” E senti como nunca dantes a necessidade de uma disciplina física e mental que pudesse ajudar meu corpo a tornar-se cada dia mais apto para usufruir, meu espírito mais lúcido para receber, meu coração mais simples para dar.
Pensei em seres lindos semeados ao longe do meu caminho, que comeram o pão que o diabo amassou, e nem por isso se deixaram envenenar pelo ressentimento; pelo contrário, a cada sofrimento vivido pareciam crescer em consciência, amor e perdão — e como que deles emanava uma paz. Pensei que alguns desses seres já se foram, transpuseram o muro do silêncio, e suas imagens, fixadas na eternidade, continuam a transmitir-me esse recado de perdão. Perdoar... Transcender o efêmero de cada sentimento, de cada ressentimento, e tentar compreender o ser humano em sua fragilidade, em sua transitoriedade e inabilidade intrínseca para demarcar os limites de sua solidão; em sua inútil e permanente mania de viver esbanjando a própria morte: a única coisa de que é realmente possuidor. Ah, que conquista tão bela, a do perdão… — e não o perdão autocomplacente; mas o perdão punitivo, o que responsabiliza aquele que perdoa, como o de Sócrates com seus juízes, o de Cristo com a adúltera, o da mulher que ama com o homem que acabou de traí-la. O amor que transcende. Que seres difíceis de digerir se tornaram os cosmonautas, em seu mundo mecânico e pasteurizado... Tomara que tenham êxito em sua badalação cósmica, que nos tragam, de preferência, antibióticos contra a guerra e não vírus contra a paz, que possam olhar o espaço invertido, com perdão da palavra, em noite de terra-cheia, e ver também, como nós vemos de cá, o Santo Guerreiro vencendo o Dragão da Maldade — que já não é sem tempo! E sobretudo que ao voltarem — e faço votos do fundo do meu coração — não comecem com muitas explicações cibernéticas quando ouvirem Frank Sinatra ou Ella Fitzgerald cantar velhas baladas como “Blue Moon” e outras do mesmo lunário em louvor da outrora bela e mágica Silene, a que apaixonou Endimião, e a quem tudo o que se pode dizer hoje em dia é que não lhe cairia mal um face peeling. Porque, ou muito me engano, ou uma grande onda romântica deve vir por aí, em contagem regressiva, em reação aos pops & ops, hips & trops, concs & struts, de que já está todo o mundo cheio.
Depois de todas essas considerações, umas pertinentes, outras ímper, peguei meu carro e fui até a Barra, visitar um antigo cosmonauta: meu amigo Zanine. Zanine é um construtor terrestre, no mais amplo sentido da palavra, isto é, não apenas de casas, mas de sua própria vida. Gosta de fazer tudo com as mãos, ou orientando as de seus obreiros como se fossem o prolongamento das suas. Ele ama a terra, a pedra, a areia, a água, o barro cozido, a madeira nua, a cal branca, o ferro batido, a mulher baiana. É um artista no que planeja como visão de conjunto, e um artesão na pureza e simplicidade do que faz — com tudo o que essa palavra contém de beleza e sensualidade. Fórmica com ele não tem vez. Zanine acabou de construir uma bela casa — a sua casa — onde mora com a mulher e a filhinha, a alto cavaleiro do mar: um marzão que é uma bestialidade, povoado de ilhas toscas e peixes ferozes. O crepúsculo que Zanine me ofereceu esse dia, naquele horizonte imenso, era de dar vontade de ter asas. Aliás, voavam por ali tudo balõezinhos de julho, retardatários, que por não serem impulsionados por nenhum foguete — no que muito bem obravam — acabaram por cair no mar, em obediência a uma antiga lei de física, qual seja a da gravidade dos corpos, que, diga-se de passagem, qualquer dia é bem capaz de fazer uma falseta a um desses cosmonautas que teimam em desrespeitá-la.
Para mim não há nada mais inocente que essas revistas pseudoeróticas que andam por aí. As moças nuas, em off-set, parecem-me de tal modo cândidas, malgrado o esforço em contrário dos fotógrafos, que para mim constituem verdadeiros breves contra a luxúria. Já o mesmo não pode ser dito da natureza: pelo menos tal como ela se me oferecia, ao voltar da Barra. Pois imaginem que ao olhar o céu rubro do crepúsculo (eu diria melhor: ruborizado!) constatei, nada mais, nada menos — veja só! — que a tarde estava com a Lua toda de fora...
Jornal do Brasil, 13-14 de julho de 1969
